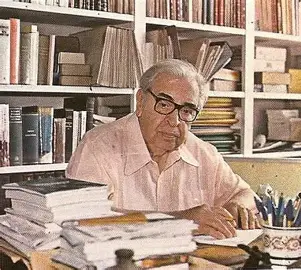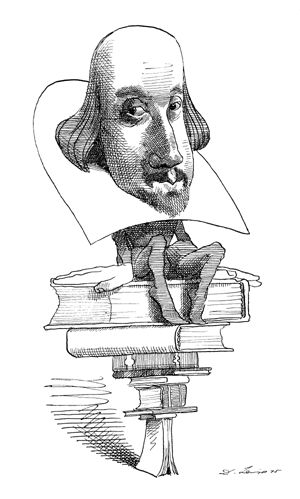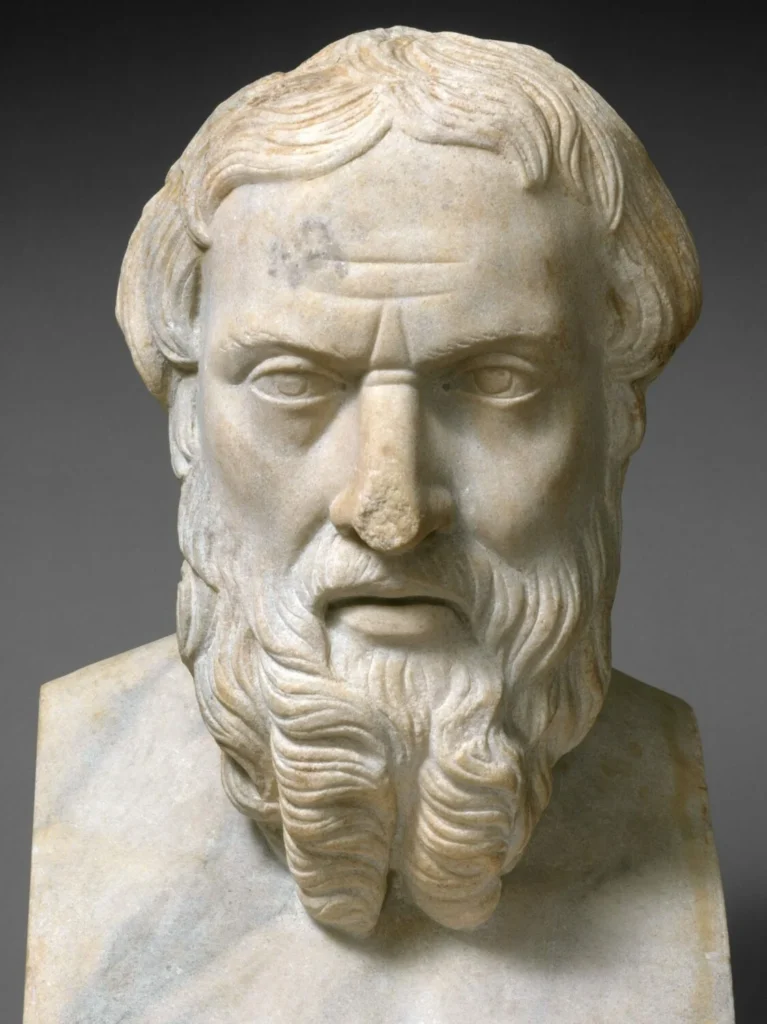Esboço para uma Epistemologia da Leitura
A introdução que apresenta esse blog contém uma formulação que talvez valha a pena desenvolver. Imagino que assim seja porque ali está um princípio, uma declaração sucinta de algo que em si é muito complexo pois pode constituir uma epistemologia da leitura. O que se segue é uma tentativa — necessariamente precária e provisória — de esclarecer esse princípio.
Eros e a Vulnerabilidade
Quando nos debruçamos no passado e nas fontes gregas do conhecimento no Ocidente, intuímos, por um momento, que não foi somente a dúvida, nem o espanto isolado e menos ainda a curiosidade metodológica, o impulso inaugural de seu nascimento. Talvez tenha sido algo mais simples e mais primário, mais congênito ao homem e ao mesmo tempo mais perturbador: o Eros. Lemos no Banquete de Platão que Diotima enuncia um princípio que, séculos depois, continua a nos surpreender: que conhecer é desejar, ali mesmo onde o desejar é o reconhecimento de uma falta, uma insuficiência que aspira, um anseio que se projeta para aquilo que o ultrapassa.
.
O nascimento do conhecimento em Platão é, deste modo, a expansão do ser pelo desejo, mas não uma expansão agressiva, voraz, dominadora, mas sim aquela em que o sujeito se percebe incompleto e limitado e, por isso mesmo, capaz de ascender para uma esfera maior que ele e mais ampla. Desta pedagogia erótica o filósofo estrutura a sua formação, não na posse da verdade, não em uma surpresa inocente, mas da tensão amorosa da atenção em direção à verdade. É um exercício de vulnerabilidade: o espírito se abre ao entendimento e, ao abrir-se, expõe-se. Aqui reside o primeiro paradoxo: essa vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma sutil e exigente de rigor
No Mito da Caverna encontramos esta passagem, este movimento do obscuro ao luminoso. Mas é no Banquete que aparece a energia que informa aquele movimento, a pulsão luminosa que os gregos chamaram Eros. Neste ponto, de um Eros que se apresenta como uma das formas de afeto, conhecer é transfigurar-se e toda transfiguração propõe uma abertura afetiva.
A Metamorfose Dantesca: O Amor que Raciocina
Algo disso se sutilizou na tradição cristã. Uma tradição que transforma, mas não rompe essa linhagem. Em Paulo de Tarso, herdeiro e transmissor de um mundo helenizado, o Eros se traduz em um registro que ao mesmo tempo que o amplia o desloca, ao mesmo tempo que o conserva o transforma: na esfera do amor cristão já não existe apenas o desejo do bem, mas surge o cuidado do bem que é amado. O amor cristão traz, portanto, um ethos pedagógico com um sentido moral; o moral vem se juntar a ética, tratando do cuidado de si e de uma comunidade. E é deste influxo gestado nas reflexões paulinas que surge Dante.
No Purgatório quando Casella enuncia a canção de Dante, os versos “Amor che nella mente mi ragiona”, testemunhamos ao mesmo tempo o eco e a metamorfose da concepção de Platão e de Paulo, de uma caritas peregrina. Há o elemento platônico neste amor que pensa em mim, que me raciocina e que antecede ao meu próprio pensamento. Mas há também algo de profundamente cristão: este amor não se limita a atração, ele me ordena, purifica, disciplina, refina em mim num exercício espiritual de elevação e beleza. É graça e método ao mesmo tempo, é uma ascese executada pelo espírito.
A tradição grega em movimento então se metamorfoseia, por assim dizer, em um cristianismo que em Dante engendra uma epistemologia do amor. (Incidentalmente lembremos a importância das Metamorfoses de Ovidio para a concepção da Divina Commedia). Não se trata de sentimentalismo, mas de um modo de compreensão que nasce da relação, da abertura, na feição de uma receptividade do espírito. O amor como faculdade cognitiva, como um constituinte mesmo de nossa possibilidade de saber. Esta é a herança de Dante por vezes esquecida no debate contemporâneo.
Falando em Dante, entenda-se que nada do que aqui se propõe nasceu como método. Como todo o meu gesto ensaístico, esta intuição epistemológica é o resultado de um convívio de muitos anos com a Commedia: uma aprendizagem lenta, feita mais de escuta do que de afirmações, mais de permanência do que de domínio.
O Rigor no Sentir: Para Além do Misticismo e do Romantismo
Mas se há uma epistemologia fundada no amor ela deve ser cuidadosamente distinguida de qualquer subjetivismo afetivo. O amor, enquanto princípio cognitivo, não dissolve o sujeito no objeto, não limita ou reduz o sujeito à uma mera projeção. Ele, ao contrário, intensifica a alteridade, destaca os elementos próprios que fundam a diferença e permite que o objeto se apresente em sua irredutível outridade, e em sua irrepetível riqueza.
Este modelo que preserva a singularidade, não padroniza os opostos, não submete o real à esquemas ou concepções precedentes. Com o olhar desarmado busca impedir a violência da interpretação e procura o acolhimento em lugar da imposição interpretativa.
No entanto ele tem limites e esses limites são reais e devem ser observados; pois o amor pode confundir, a identificação pode embotar a crítica, a cumplicidade afetiva pode correr o risco de diminuir o rigor racional.
E é por isso que qualquer epistemologia cuja base é o amor supõe e requer uma grande disciplina interna, obrigando a lucidez, o rigor e a atenção de uma escuta muito cuidadosa para perceber com precisão o que no objeto se oferece como uma possibilidade real de conhecimento. A lucidez no amor, o rigor no sentir, a atenção na escuta e a precisão do olhar ao descrever é o que eu entendo como compaixão intelectual, como uma hermenêutica da compreensão.
Se enganará e fará uma leitura superficial quem ler nestas suposições uma postura meramente mística ou religiosa, ou uma reverberação romântica. O campo semântico aqui desenvolvido é o da genealogia histórica de um termo muito mal compreendido: o Amor. Que fique claro que aqui mais que uma moldura que supõe uma religiosidade ou uma emanação do romantismo, está proposto o fundamento de vitalidade da própria existência que, por princípio, engloba tanto o bem quanto o mal, tanto a vida quanto a morte.
Pois se é uma epistemologia dantesca ela tem que ser capaz de ler o inferno (o texto violento, o pensamento abjeto, a dor pura) com o mesmo rigor e atenção que dedica ao paraíso. A compaixão intelectual, portanto, não é apiedar-se do texto ou de seu tema, mas ter a coragem de percorrer toda a sua extensão complexa e difícil, do lodo à luz.
Mas é também ver o amor como uma ação ordenadora já que em Dante, o amor é o que organiza a multiplicidade. No ato da leitura isso significa que a “compaixão” é o que permite ao crítico organizar a complexidade do texto sem fragmentá-lo, respeitando o lugar de cada elemento na totalidade da leitura.
E enfim, assim sendo, esse método se propõe a lidar com o inteiro, e o inteiro inclui a luz, mas também contempla a sombra.
A Inclusão Matemática e o Atrito das Metáforas
Desde criança eu amava uma concepção fundamental que está na base da teoria dos conjuntos. No campo da matemática este meu afeto desenvolvia uma estrutura iluminadora. Um conjunto compreende outro quando o inclui, quando o incorpora sem anular suas diferenças. (Nas aulas da infância o conjunto frutas compreendia, na explicação da professora, bananas, maçãs e peras). Compreender é, neste sentido, abarcar, abrir espaço, aumentar, não diminuir.
Este modelo, embora formal, esse símile, embora imperfeita, oferece um paralelo iluminador para a crítica literária: compreender um texto é permitir que esse texto exista dentro de nós sem tentar reduzi-lo a nós mesmos. Assim como um conjunto contém um outro sem destruí-lo, o leitor inclui em si a obra sem jamais esgotá-la. Ao compreendê-la participa com ela de sua inexaurível essência sem jamais possuí-la de todo. Hospeda-a em si, com ela convive, mas não a possui inteiramente e sabe que a compreensão é provisória, pois o entendimento de algo é sempre um conjunto que pode ser expandido. O limite desta imagem é que a matemática é estática, enquanto a leitura é viva, mas é do atrito das metáforas que se alimenta toda a literatura.
Daí que esta humildade que acolhe e preserva (e conserva a sua pulsão expansiva) é, sem dúvida, uma proposta ética.
Mas a compreensão não trata apenas da inclusão ela é também deriva, transformação recíproca, troca. E aqui a dialética hegeliana corrige a rigidez dos conjuntos matemáticos. Lembremos que há algo na dialética que aponta que o entendimento profundo modifica tanto o sujeito como o objeto, que o movimento é dialético sempre em sua natureza radical e assim também o será num exercício de leitura.
E aqui também um retorno da nossa concepção inicial do amor, não emocional, não subjetivo, mas reinscrito como uma disposição dialógica, onde amar é permitir que o outro me transforme, no momento em que o dialógico é dialético e vice-versa, na fricção do contato entre um eu e um texto.
E nesse permitir, entender que compreender é mais que analisar através de uma exterioridade segura, é hospedar a companhia do texto, na vulnerabilidade de uma abertura que se apresenta como generosa e acolhedora. E é nesse momento, sem dúvida, que a minha posição se revela precária: ao abrir as portas para o texto, aceito o risco de ser desestabilizado por ele. E assim deve ser.
.
A Compaixão Intelectual como Categoria Crítica
Chamarei de compaixão intelectual esta capacidade de unir rigor e acolhimento; de recusar tanto a frieza analítica quanto a indulgência cega. É uma categoria crítica porque orienta o modo de ler, de pensar e de julgar.
Nela, três movimentos: Suspender a violência interpretativa, assumir a vulnerabilidade cognitiva e responder com rigor. Não forçar o texto a dizer o que não diz. Abrir-se lealmente à singularidade do texto. Elaborar, articular, o sentido; tentar falar o que o texto disse, não falando por ele, mas falando com ele.
O que proponho — ou talvez o que me proponho a perceber — é uma teoria crítica em que conhecer é acolher, e acolher é um trabalho do intelecto; onde compreender é incluir sem dominar; em que o rigor não anula, mas organiza a sensibilidade.
A compaixão intelectual não é uma virtude moral apenas, mas um método, em mim, natural de entendimento. E talvez mais do que um método: uma forma de estar no mundo, afirmando a minha singularidade e afirmando o respeito a alteridade como condição para todo pensamento que pretende ser verdadeiramente humano.
O amor que raciocina na mente — aquele que Dante ouviu de Casella e que atravessou séculos para reverberar em nós como uma música rigorosa em sua proposição — continua sendo a mais exigente das faculdades: a de pensar com o coração e de sentir com lucidez. É desse ponto que nasce uma estética do acolhimento que busca a generosidade, onde a crítica se torna uma forma de recepção enriquecedora e o pensamento, uma forma de cuidado de si e de todos os outros.
A Origem de Uma Intuição
Mas resta, no entanto, tocar um ponto em que esta reflexão deixa de ser apenas uma epistemologia da leitura e se aproxima de sua raiz mais concreta: a própria história e o peso das palavras que escolhemos para nomear esse gesto.
Ou seja, o motivo pessoal para este ensaio.
Como esse é um ensaio sobre a ética da leitura como uma epistemologia, eu gostaria de acrescentar algo ao termo “compaixão intelectual”, onde a palavra compaixão é o elemento maior e definidor do gesto que ele quer suscitar, o elemento de interpretação e sentido contido nesta expressão, que é humilde em sua formulação e essencial em seu significado.
Compaixão vs. Empatia: Uma Distinção Ontológica
Há algum tempo percebi que entre as imensas e profundas transformações que continuamente se sucedem no uso da linguagem, o quase completo desaparecimento da palavra compaixão, que hoje não aparece mais nem ao menos nos discursos humanistas. Lembro que até um certo tempo atrás, esta era uma palavra comum usada constantemente tanto, sob um ponto de vista cotidiano, nos ensinamentos das avós, quanto, em alguns estratos acima, nas pregações das Igrejas ou nas declarações sobre os direitos humanos. Lentamente a palavra compaixão foi deixando de ser usada, desaparecendo, e em lugar dela entrou em uso a palavra empatia, que querendo dizer a mesma coisa, dizia, no entanto, algo de profundamente diferente.
Pois, enquanto que a Empatia (do grego empátheia, “entrar no sentimento”) é quase como uma ferramenta psicológica e cognitiva (já que ela fala de uma capacidade, uma competência quase técnica: a de compreender cognitivamente e sintonizar-se afetivamente com o estado do outro), a compaixão (do latim cum-passio, “sofrer com”) é uma condição ontológica compartilhada pela alma. Ela não é apenas compreensão ou sintonia; ele é co-participação no sofrimento. Ela implica uma vulnerabilidade radical do ser, uma quebra das barreiras do eu. É um termo que carrega o peso de tradições éticas e religiosas (do budismo ao cristianismo), onde o sofrimento (paixão) não é um problema a ser gerenciado, mas uma verdade da condição humana a ser assumida e transformada em vínculo.
Assim, enquanto eu refletia sobre o desaparecimento da palavra, ao mesmo tempo, me ocorria que se poderia resgatar a semântica da “compaixão”, e assim reintroduzir no debate crítico elementos que somente a “empatia”, em seu uso corrente, tenderia a diluir:
Coisas como: a universalidade do sofrimento, o compromisso solidário ativo, a transformação mútua, pois na universalidade do sofrimento a compaixão reconhece que a dor não é um acidente que ocorre ao outro, mas uma dimensão da finitude que nos constitui a todos. Um reconhecimento de uma fratura comum. A empatia pode selecionar e particularizar. A compaixão, em sua raiz, é um princípio universal.
E universal no compromisso ativo, à saber, que “sofrer com” não é um estado passivo de sentir pena, apiedar-se, que ele contém em si a semente de uma resposta, um movimento em direção ao alívio da dor quando compartilhada. É, portanto, inerentemente ética e política. A empatia pode permanecer no nível do diagnóstico; a compaixão exige um posicionamento ativo.
Por fim, a transformação mútua avisa que enquanto a empatia pode visar a “compreensão correta” do outro, a compaixão aceita que, ao sofrer junto, eu também sou alterado. O “com” é um acordo de transformação recíproca. É a vulnerabilidade cognitiva levada ao seu extremo existencial.
O Amor que Raciocina na Mente
Ao nomear uma categoria de Compaixão Intelectual, eu tentava infundir na crítica um pathos ético: O intelectual não é analista imparcial, mas um co-partícipe no drama humano que os textos e as ideias encenam. Uma de suas tarefas é sofrer com as questões, contradições e dores que eles apresentam.
Apenas restaurando a dimensão de cuidado, a empatia analítica pode dissecar, mas a compaixão intelectual quer curar – no sentido de tornar são, de integrar, de dar um lugar digno à complexidade e ao sofrimento do pensamento alheio. É a caritas dantesca aplicada ao ato da leitura.
Desafiando a frieza da “razão desinteressada” penso que o verdadeiro rigor não está na ausência de envolvimento, mas na profundidade e na disciplina com que nos envolvemos na escuta cuidadosa de textos, homens, quadros, mundo. A compaixão pede um rigor maior, pois lida com material vivo e vulnerável – o do outro e o próprio eu.
Um rigor que deve estar atento e enfrentar algumas sombras: pois nem todo texto busca a luz, alguns textos se fecham em uma dinâmica de repulsão e obscuridade. Existem obras que são arquiteturas de violência ou má-fé. O método que proponho não deve ser confundido com a contemplação passiva. O rigor da compaixão também reside em olhar o mal, o desterro e o horror do pensamento sem desviar o olhar, reconhecendo neles uma fratura comum, e na essência humana, compartilhada, da nossa condição. A crítica, assim, torna-se uma forma de cuidado, compreensão ampliada onde nada do que é humano nos deixa indiferentes.
Portanto, a “Compaixão Intelectual” foi, mais do que um método, um reposicionamento existencial do pensamento crítico. É uma declaração de que pensar, em sua forma mais elevada, é um ato de coragem repartida: a coragem de habitar com o outro as zonas de sombra e de conflito, na esperança – não ingênua, mas disciplinada – de que dessa coabitação nasça uma compreensão mais verdadeira e, portanto, uma humanidade mais capaz de superar suas próprias desventuras.
Em suma, o Amor che nella mente mi ragiona.