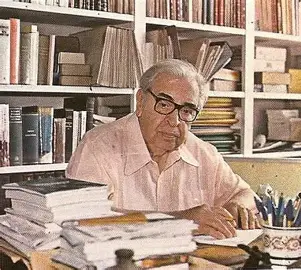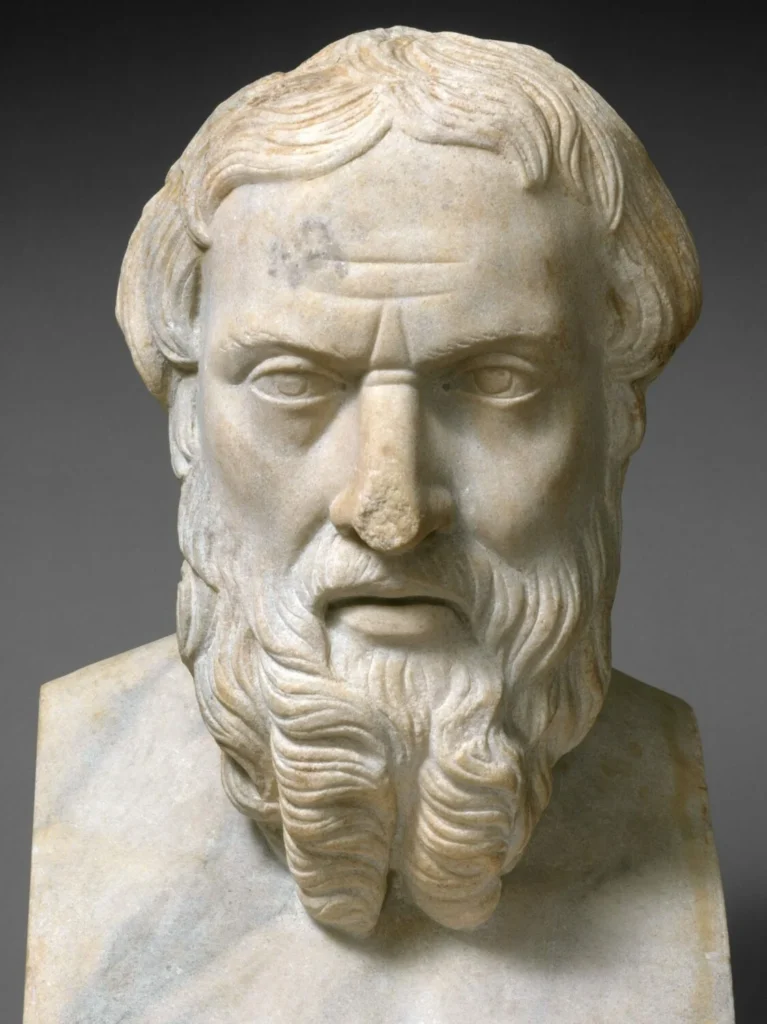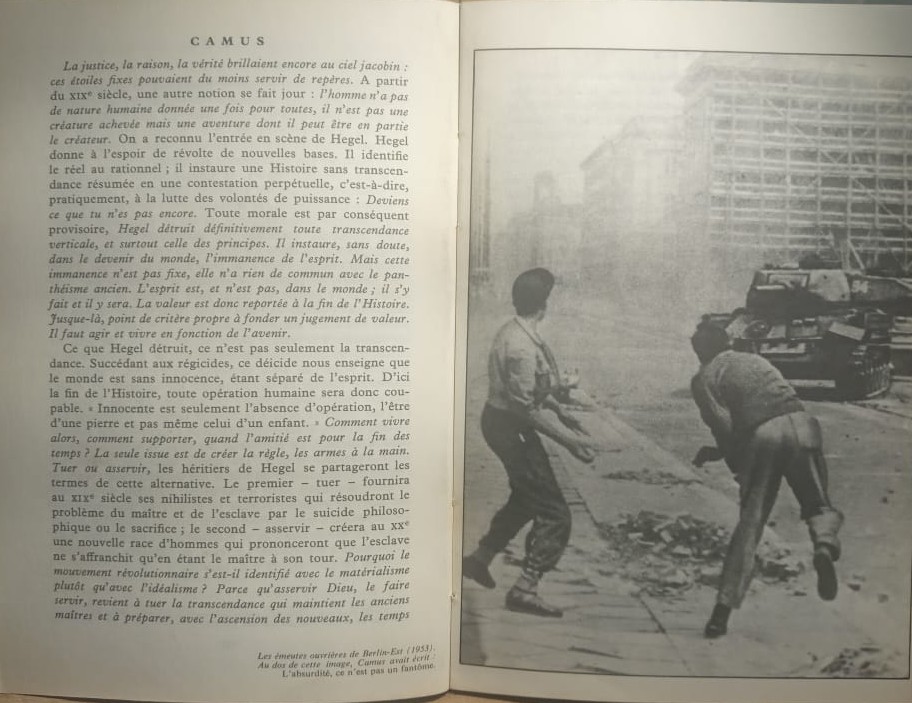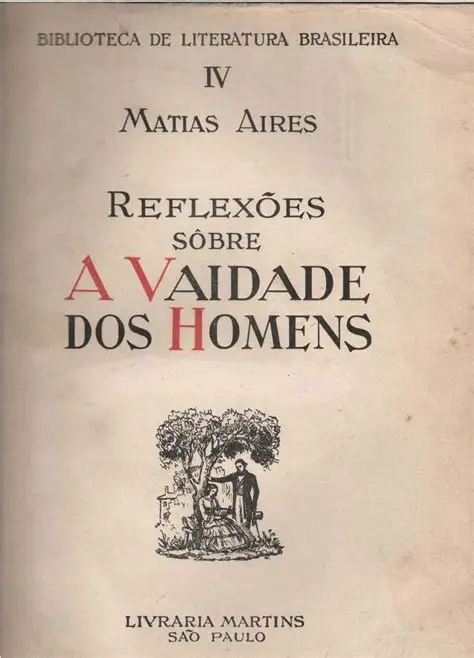Este ensaio não é uma análise sobre Klimt, é um exercício público de leitura de um quadro, como já fiz em outros momentos neste blog. Parto do princípio de que a interpretação de uma imagem, como a de um texto, não é privilégio do especialista, mas uma habilidade que se exercita, logo que se aprende e que se ensina. Vou seguir um caminho simples, mas profundo: primeiro, ver o que todos veem (e por que veem); depois, me deixar mover por um detalhe que resista à explicação fácil; por fim, seguir esse fio até intuir uma nova camada de sentido.
A Evolução do Beijo na Arte Ocidental
É relativamente moderna a representação do beijo como um gesto de afeto na Arte Ocidental. Embora o beijo apareça na arte desde a Antiguidade, o seu significado mudou significativamente desde que o homem começou a pintar, desenhar ou esculpir a forma humana. Durante séculos, este beijo raramente significava algum tipo de afeto romântico ou a ternura como os entendemos hoje. Ele era frequentemente um símbolo político, religioso ou social.
Na Antiguidade e na Idade Média o beijo representava traição (o beijo de Judas), a reverência (beijar o anel de um bispo ou os pés de um monarca) ou o “beijo da paz” entre cavaleiros feudais e clérigos constituídos. Depois, no Renascimento, haverá o beijo dos temas mitológicos, muitas vezes carregado de uma conotação erótica ou simbólica, mas raramente de carinho, encontro ou companheirismo.
Somente com o Romantismo (Séculos XVIII e XIX) é que o beijo passa a ser o ápice da expressão da relação individual e da conexão emocional profunda entre dois seres que se amam. Como exemplos temos o quadro de Francesco Hayez de 1859: O Beijo. Neste quadro temos o beijo do romantismo italiano e do Risorgimento; um beijo apaixonado, mas furtivo e carregado de perigo. É um beijo de despedida, talvez seja um beijo político, talvez seja um beijo dramático.
Há também no século 19 o incontornável Beijo de Rodin, de uma beleza quase inumana com seu foco na paixão física e na entrega emocional. E há também as representações acadêmicas e sensuais da mitologia como, por exemplo, em William-Adolphe Bouguereau, no Rapto de Psiquê de 1895. O beijo aqui é aéreo, idealizado, com um domínio técnico absoluto da forma corporal. É a beleza canônica e ilusionista, mas própria a ilustração do mito. Modernamente temos o beijo em Toulose-Lautrec, em Chagall, em Picasso. Mas nenhuma dessas representações alcançou o impacto e a centralidade cultural e emocional que o quadro O Beijo de Gustave Klimt, pintado em 1908, tem para a modernidade.
A Modernidade e a Geometria do Afeto
Este quadro permanece no imaginário do Ocidente como uma das imagens centrais do sentimento moderno da paixão erótica em um mundo novo que surgiu bem no início do século XX. Pintado em 1908 ele testemunha toda uma outra sensibilidade humana que ali estava afirmada em projeto e realização. O projeto da modificação dos costumes, dos modos de sensibilidade burgueses e do corpo que se colocavam em questão frente as tensões da história. Realização de uma moderna prática artística que ultrapassando o impressionismo arriscava novas maneiras de se exprimir, novos materiais, tensões e abordagens criadoras.
Nele há algo de universalmente aclamado como o registro da intimidade do afeto, a partilha e a cumplicidade de um par apaixonado, a celebração do amor em sua pura eroticidade romântica, a encarnação de uma tranquila felicidade erótica. Esta abordagem iluminadora do quadro tem na leitura precisa das vestimentas a decifração simbólica do conjunto feminino-masculino em sua imbricação.
- Nas vestes do homem: as figuras geométricas de retângulos e quadrados, os objetos retos e agudos, apontaria o elemento viril.
- Na roupa da mulher: em contraste com as formas geométricas doces, circulares e ovais que evidenciariam o elemento feminino.
Um conjunto geométrico que na sua totalidade e relação dialética fala da fecundidade e da libido como uma celebração da vida. Nesta bela e luminosa leitura o dourado (as chapas de ouro usadas por Klimt nesta fase de sua pintura) apontaria para a nobreza e solenidade transcendente do encontro do casal, que investido em ouro encarnasse a transcendência solar do movimento erótico, a centralidade luminosa de Eros em seu encontro hierático na Natureza.
A natureza nesta imagem é o átrio verdejante e floreado que serve de base a celebração no enlace do casal; a natureza é também o espaço vazio que os circunda não totalmente escuro, mas já polvilhado dos pontos luminosos emanados de suas figuras. Esta leitura iconográfica do quadro como uma comemoração erótica, um registro celebratório da fusão do masculino e do feminino como elementos centrais de uma epifania semirreligiosa, está dado e, de uma certa forma, descrito pela feição bizantina dos elementos geométricos como foram atualizados por Klimt; a composição vertical e ascendente, o vazio em torno do casal a ser preenchido pela dinâmica do beijo, uma dinâmica em si mesma fecundadora e inaugural.
A Outra Face: Os 30% de Carne e Tensão
No entanto há outra coisa que está subjacente à complexidade do conjunto e que merece ser lida com cuidado para ser compreendida inteiramente. Trata-se da figura humana, o objetivo declarado da pintura, o núcleo significativo, mas que escamoteado pelo geométrico luminoso pode derivar a nossa leitura para um engano interpretativo.
Pois o corpo dos amantes, enquanto pele, carne, gente preenche apenas, talvez, aproximadamente, trinta por cento da superfície do quadro. Setenta por cento desta superfície, onde lemos a mecânica do erótico, da sexualidade humana como encontro, está representada e presumida por signos dinâmicos que o apontam e incluem, apresentam e elidem, indicativos de uma corporeidade quase que apenas presumida. Pois os corpos dos amantes neste quadro que celebra o erótico estão apenas fragmentariamente sugeridos.
E o que sugerem?
Primeiro as mãos, a posição das mãos e a esfera evidente de sua representação e sentido. As mãos do homem imobilizam e constrangem o rosto da mulher. Como dado nas circunstâncias da imagem, elas operam como presilhas que, com o auxílio do rosto do homem – que se dobra sobre a face feminina – impede o rosto de todo movimento e retira toda possibilidade de recusa. Na posição ali expressa a mulher se encontra submetida e impotente, constrangida em um limite intransponível, em um cerco.
E algo desta impotência se evidenciam também nas mãos dela, pois elas apontam sua indeterminação de vontade na contenção daquele abraço. A mão direita dela, que aparece por sobre o pescoço do homem, está semi fechada, talvez se contraindo, talvez se contorcendo, em um sinal de repulsa, negativa ou afastamento. A mão esquerda, que se abre sobre a mão do homem, projeta um sinal ambíguo de recepção ou desligamento. A tudo isso soma-se a sua posição ajoelhada de submissão servil ao que parece uma imposição de força.
Neste espaço diminuto da exposição do duo humano em meio a geometria abstrata, há também o rosto oculto do homem, que nada revela de si, onde a sua dominação é anônima e opaca, quase invisível; dele só transparece a pesada corporeidade que domina, e que está em claro contraste com a exposição completa do rosto da moça. A beleza dela está contida no círculo de ferro da impressão gestual do homem com sua manopla coercitiva.
O que nos diz seu rosto, ao contrário da objetividade das suas mãos, é um sinal ambivalente. Seus olhos fechados podem ser de aprovação ou de recusa, sua expressão calma pode ser de aceitação estoica ou de deleite contido. Como nas simulações naturais no teatro das relações sexuais, o que há de verdadeiro, o que há de fingido na sua expressão que nos encanta? A ponta recurva de seus pés dependurados no nada indicam resistência e tensão ou contorção do gozo? A exiguidade da representação dos corpos fala outra coisa que não apenas da celebração amorosa, fala da tensão e da violência e do misterioso além de toda representação que está implícita em todo Eros.
Conclusão: A Síntese da Ambiguidade
Então o que estamos vendo são dois quadros. Na sua abordagem como signo, na sua meditação abstrata e figural, nos motivos geométricos, ambientação, cor e luz, claramente está encenado o motivo erótico-religioso da centralidade, necessidade e beleza do Eros, a transfiguração da Vida. Um tema luminoso e celebratório, neste que é setenta por cento da superfície material da pintura.
Mas em seu motivo carnal e implícito, na representação da dinâmica entre os personagens e que se constitui apenas de trinta por cento, aproximadamente, da imagem, a pura celebração agora também é violência, o ato erótico é também violação e dor, o encontro é dominação e luta.
Ao percebermos a existência destes dois quadros, entendemos um novo nível de profundidade, pois o Beijo de Klimt se transforma de pura afirmação erótica direta para uma mais complexa indagação dos limites abissais do relacionamento humano. Pois não é que a carne negue as luminosas indicações dos símbolos abstratos da pintura.
A carne em sua contradição dialética da dinâmica sexual assume a ambiguidade especular do discurso que está sendo proferido, ao mesmo tempo pela abstração e pela concretude, de grandiosidade e repulsa, da ampla complexidade da alma humana e do desejo. A veracidade difusa da amorosidade humana, cuja carnalidade simplesmente animal, (trinta por cento?) é reinventada e traduzida no vasto campo do imaginário erótico, no Beijo não se resolve em uma resposta as nossa perplexidades, mas oferece uma síntese estética as nossas eternas interrogações sobre o amor e o sexo, e assim a obra não resolve, mas encena a ambiguidade dialética de todo desejo, e este é um dos dons privilegiados da Arte.