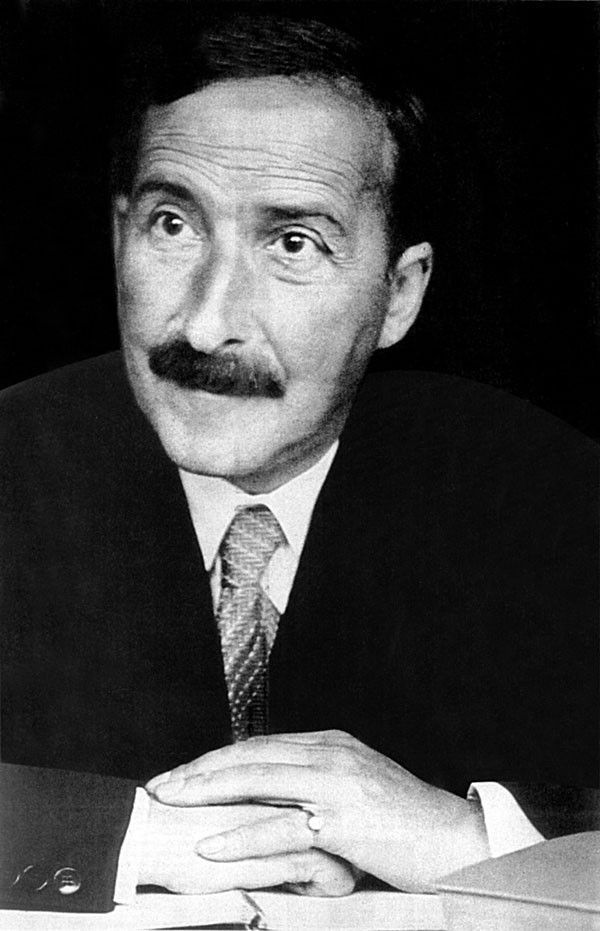É um tema judaico, é um tema cristão: mais que fonte de consolo, a inteligência tem sido identificada constantemente como a origem principal da angústia humana, da sensação explicitada de nosso desamparo, de nossa melancolia metafísica e de nossa tristeza. Afinal foi ao provar do fruto da árvore do conhecimento que o homem penetrou na cisão definitiva entre o consolo cego dos instintos na natureza e as prerrogativas dolorosas do saber. Também nos gregos: a dor sentida nos olhos do filósofo de Platão, que ao escapar da caverna mira o sol ofuscante da verdade, também serve de metáfora para o preço do conhecimento, que é o do exílio constante do reino indolor e escuro da ignorância ou inocência. Saper, sapore, sabor, o gosto amargo e obscuro da árvore do conhecimento só seria menos amargo que o fruto da árvore da vida eterna. E esse é o motivo porque Deus, mais por piedade do que por castigo, expulsa o Homem do Paraíso: “se comeres do outro fruto sereis como deuses”. E nada poderia ser mais terrível para o homem.
No Cristianismo é o próprio Jesus que o declara em sua mais importante pregação. No Sermão da Montanha diz: “bem-aventurados são os pobres de espírito”, os ignorantes, pois serão chamados “os Filhos de Deus”, E isso se assemelha muito à verdade de que para os estudiosos, os sábios, não há no final bem-aventurança alguma. Se ter é perder (como no belíssimo poema de Drummond), saber é uma forma de privação de conforto, um certo estado de angústia. É desequilíbrio e, por vezes, loucura.
Até mesmo na cultura popular e na literatura aparece a figura triste daquele que gastou seu cérebro e seu tempo estudando (e de mucho leer e poco dormir se le seco el cérebro – Dom Quixote), a crença, um pouco comum, de que o cientista, o homem muito inteligente é, em comparação ao comum dos homens, um ser nas nuvens, por vezes meio aparvalhado, um pouco bobo, afastado das preocupações usuais dos homens.
O Intelectual como Personagem Literária
No mundo moderno da ascendência (e agora decadência) da classe média urbana e da tentativa de educação universal, o tipo clássico do professor como um sujeito um pouco deslocado, era até a pouco, um lugar comum no imaginário popular. Os intelectuais, digamos, pessoas genuinamente tocadas pela paixão intelectual, em geral um tipo criado (idealmente) junto a uma certa concepção literária do homem, num certo momento, eram bastante comuns e se tornaram, eles mesmos, uma personagem literária.
A obra de Saul Bellow procura, em quase todos os seus livros, mapear a existência mental desse personagem, seus gestos invariavelmente vãos, seu imaginário confuso, sua grandeza invisível e sua miséria evidente. Desde de Moises Herzog e sua epistolografia enlouquecida espiralada em uma queda, até Abe Raweistein (sua reinvenção literária do intelectual Allan Bloom), Saul Bellow tem virado pelo avesso o confuso universo espiritual do que se convencionou chamar o intelectual judeu (principalmente), mas universal em sua pose e encenação.
Herzog: O Fracasso do Humanismo no Século XX
Para mim seus livros são particularmente tocantes, afinal, seus personagens são profundamente humanos no fundo de suas almas em geral soterradas por montanhas de papel, livros e erudição. O pobre Moises Herzog é uma criatura verdadeira, posta de pé pelo talento de um grande romancista, que amparado no humor descreve toda a desventura do humanismo no século XX. Bellow nos apresenta Herzog como alguém digno de piedade e logo no início do livro somos obrigados a concordar com ele: com o conhecimento não veio a sabedoria e muito menos a felicidade. A inteligência sutil de Moises Herzog não é suficiente para leva-lo a felicidade em meio a cultura material da classe média contemporânea. Ignorado pelos filhos, enganado por suas mulheres, fracassado nas relações pessoais mais simples, Herzog ri e nós nos obrigamos a rir com ele, pois tudo o que resta no final é o humor.
Mesmo no Legado de Humbold, talvez seu livro mais ambicioso na descrição de tipos intelectuais da cultura da classe média, são o humor e a auto ironia os dois pilares onde se sustentam a leveza do livro. Enquanto a ação de setenta por cento do livro se passa na cabeça dos personagens, na ilusão ilustrada de seus egos, somos levados mais uma vez à piedade e a simpatia. Em Bellow menos vale mais.
O Humor como Ferramenta de Transcendência
O que ele nos dá veladamente é uma discussão sobre a falência dos ideais literários do humanismo. Que a educação não trouxe a melhora, nem o apaziguamento e, muito menos ainda, a felicidade; mas que o humor, um subproduto sutil da inteligência (e a auto ironia), são talvez suficientes para justificar a vida humana.
Afinal esses personagens de Bellow não são melhores que ninguém e chegam mesmo a ficar em clara desvantagem em relação aos outros menos intelectualmente dotados. O que os salva por vezes é uma inflexível autoanálise e sua capacidade sempre renovada de rir de si mesmos. Para eles a autoindulgência não conta.
Neste lapso entre a bem-aventurança dos ignorantes e a angústia dos letrados, Bellow interpõe um humor delicado e perene, não o da risada, mas a do sorriso. A autoanálise de seus personagens pesadamente intelectuais é séria, mas sabe que a seriedade olhada de bem perto também é risível.
Isso fez de Saul Bellow um autor muito moderno já que foi na modernidade que o humor foi entendido como uma ferramenta da transcendência do eu e como um dos poucos instrumentos de liberdade que a alma condenada ao conhecimento possui para eludir a Deus.
Sim, pois Deus (o do Ocidente judaico-cristão), como se sabe, tem pouco humor e como Eco descreveu no Nome da Rosa, o próprio riso era suspeito na Idade Média; para a Igreja, um recurso demoníaco. (Aqui é claro essa suposição de Eco é aceita com as devidas ressalvas para ser usada somente como um horizonte argumentativo).
Mas não é bem assim, o humor intelectual de Saul Bellow é amplamente humano. No ritual muitas vezes cruel da autoanálise, seus personagens jamais caem na condenação amarga porque profundamente auto irônicos saem fortalecidos da dieta de seu veneno analítico. E esta é a lição de Saul Bellow.
Uma difícil lição. Mas a insistência de Bellow em seu tema mostra o quão importante o tema era para ele (e para nós). Rir de si mesmo é o princípio da sabedoria.
É, como sabemos, a contribuição laica de um certo humor judaico em sua origem que trabalha justamente nessa cisão instaurada em nossa cultura pelo próprio judaísmo entre o reino do homem e o da natureza.
Pois se o humor foi o prêmio contrabandeado do conhecimento é que ele pode transfigurar a angústia que nasce do reino desolado do saber, e ensinar ao homem a encarar no fim a sua própria morte.
Se o conhecimento não dispõe imediatamente a grandeza, o riso é uma grandeza suficiente. Não o riso voltariano, mas o riso de Diderot. No romance de Saul Bellow as contradições da inteligência se resolvem em um atributo mais alto que o próprio conhecimento: talvez o possamos chamar de sabedoria e aí então mesmo o nosso destino estaria a salvo e nossa aventura assinalasse um sentido.
A Comédia Social em “O Legado de Humboldt”
Esse riso diderotiano (Jaques, o fatalista) é particularmente evidente em um romance como O Legado de Humbold. Neste, Von Humbold Fleicher, poeta laureado decadente; Charles Citrine, teatrólogo de sucesso ascendente; e Rinaldo Cantabile, o casca grossa mafioso de Chicago encarnam o tema da cultura, sua impostura, seu brilho e decadência onde os personagens encenam uma dança de amor e ódio, de encontros, trombões e desencontros. Uma narrativa algo picaresca cujo mote inevitável é o equívoco.
Neste romance, talvez mais que nos outros, o conhecimento é mais que uma fonte de angústia a moldura de uma comédia social onde os personagens compulsivamente autoanalíticos, apartados de qualquer inocência, buscam uma conciliação impossível consigo mesmos. Pois no universo complexo da imaginação em Saul Bellow não há reconciliação nunca. Como na dialética cada contradição engendra outra infinitamente mais alta e complexa e somente o humor nos resgata do papel grotesco que desempenhamos. Charles Citrine, escritor de sucesso vive a crise de seus fracassos afetivos dentro de seu sucesso material e neste caminho reencontra seu mestre o poeta Humbold Fleicher, consumido pelo alcoolismo, pela paranoia e pelo esquecimento, e que agora está morrendo na miséria. A batalha de escarnio, impropérios e desencontros entre eles é toda disputada em jargões literários e figuras de retórica do meio intelectual. É a tal cultura que afinal pouco salva. O mafioso Cantabili sublinha na narrativa tanto a inutilidade de ser culto como a parvoíce de não sê-lo.
Mas há um heroísmo menor em todas essas ações, que é o da consciência de seu gesto. Esta consciência é o resultado inesperado e risível do homem ter comido da arvore do conhecimento, mas é, ainda assim, seu heroísmo. Tudo somado, de nossas vaidades resta pouco ou nada. E daí que, não tendo comido da árvore da vida, tolos e mortais, percebemos que o melhor que há em nós é este nada um pouco cômico e perfeitamente humano.